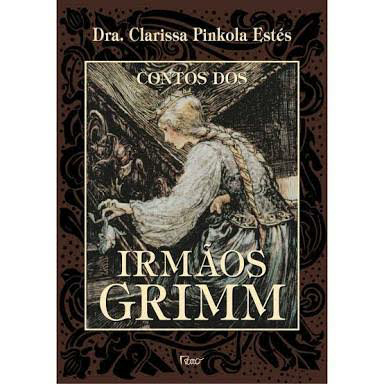— Desliga esse rádio, Élcio. Já é meia-noite e você precisa ir embora.
Élcio nem dava bola. As palavras agora não eram tão importantes quanto os números. Aumentou o volume do rádio e falou:
— Só mais uma urna.
A mulher sentou-se na cama, indignada:
— Só quero ver a sua cara, quando o meu marido chegar.
Élcio sorriu:
— E quem é que você pensa que estou ouvindo no rádio, meu bem?
Papel duplo
Isabela era atriz de teatro, ia para o ensaio:— Por que não vem comigo, amor?
Nelson, seu noivo, foi positivo:
— O último ensaio que vi, você estava muito entusiasmada, beijando aquele calhorda.
— Arte é arte, meu bem.
— Você está muito enganada. A arte tem limite.
— Discordo. A arte não tem limite.
— Mas a minha paciência tem.
— Deixa de ser bobo, você não confia em mim?
— Confio, não confio é nele.
— Você parece que nem conhece gente de teatro. Noventa e nove por cento não é de nada.
— E como é que posso saber que o sujeito que você beija não é o 1 por cento?
— Porque estou lhe dizendo que ele não é de nada. Isabela foi, Nelson ficou. Meia hora depois, ele não resistiu, ligou para o teatro:
— Por obséquio, a Isabela pode atender?
— Quem?
— Aquela moça que é beijada o tempo todo.
— Escuta, meu chapa: em cena ou fora de cena?
— Em cena, é claro!
— Então não sei quem é.
Surpresa
Zoroni era mágico há dezoito anos, há dois meses estava sem emprego. Sua mulher não se conformava:— E agora, de que adiantam os seus truques? Quero ver é você tirar o bife da cartola. De conversa já ando cheia.
Uma noite, ele chegou em casa e teve a surpresa: a mesa estava posta, com os melhores pratos que pudesse pensar. Aparelho de jantar inglês, faqueiro de vermeil francês, cristais tchecos e toalhas de cambraia bordadas em Portugal. Ficou intrigado, mas não disse palavra. Comeu o que pôde, acendeu um cigarro, esparramou-se no diva, pensativo. Quando a mulher lhe perguntou por que estava tão triste, aproveitou :
— Nada, não. É que arranjei hoje um emprego de faquir.
E ela:
— E isso é tão trágico assim?
— Trágico, não, humilhante. O mágico sou eu, mas quem faz a mágica é você.
Quem te viu e quem tevê
Sempre que ligava a televisão, Heloísa não resistia:
— Um dia, ainda serei garota-propaganda.
Dito e feito. Tanto insistiu que acabou arranjando um teste. Passou em todas as provas, de imagem, de som, de dicção, de interpretação, de arte dramática, de cinismo, de paciência, de irritação, de embaraço, de falta de jeito, de sorriso parado, de gritinhos sexy, de apontar o dedo na cara, e até no "teste do jantar", que é o mais difícil — pois teve de jantar com o patrocinador. Um mês depois, começou a abraçar geladeiras, eletrolas, fogões, máquinas de lavar, como se estivesse abraçando o próprio patrocinador. Em casa, coitadinha, estava impossível:
— Sabe, mamãe, arranjei um noivo que é ó-ó-ótimo! A mãe delirava de alegria, achava a sua filha um encanto de moça. E ela não saía disso:
— Um noivo que é uma ma-ra-vi-lha!
E de adjetivo em adjetivo, foi comprando tudo: casa, automóvel, sítio, jóias, cachorrinho, peles, um ver-da-dei-ro-es-tou-ro! Em sua casa, ninguém mais trabalhava: família com patrocínio é fogo.
Tempo instável
Todos os dias de manhã, Eugênia vestia o short, pegava a barraca, despedia-se do marido e dizia que ia para a praia. Apesar da chuva, o marido não dava muita importância, pois não queria desmoralizar o seu emprego: trabalhava no Serviço de Meteorologia. Na véspera, Eugênia perguntava:
— Amanhã vai chover?
— Claro que não.
Não dava outra coisa. Às vezes, ele tentava sair pela tangente:
— Tempo instável, sujeito a chuvas.
Essa não. Ela queria saber, no duro, e quando ele afirmava, dava sempre o contrário. Era discussão em cima de discussão. Até que um dia, ele resolveu ir à forra. Quando ela chegou na sala de short e barraca em punho, ele apontou a chuva na vidraça:
— Hoje não sai, não senhora, que a culpa do mau tempo não é minha. Pedi demissão ontem, olha aqui o papel assinado pelo chefe.
Quando acabou de falar, apareceu o maior sol na janela.
Desafio
Valentim era pintor de nus artísticos. Sua mulher costumava dizer:
— Tantos anos na Escola de Belas-Artes, pra no fim dar nisso. Isso é lá profissão de gente?
Valentim respondia:
— O que você tem é ciúme, Margarida. Um dia, ela foi agressiva:
— É muita falta de imaginação de sua parte, Valentim. Só consegue ver mulher nua com um pincel na mão.
Ele deu um riso de piedade:
— O ciúme transtornou você, Margarida. Ela se queimou:
— Ciumento é você, quer apostar? Ele não recuou:
— Quero.
— Então me pinte nua, agorinha mesmo, e depois ponha o quadro numa exposição.
— Feito.
Ela tirou a roupa, ele espalhou as tintas. Dois meses depois, o quadro ganhou medalha de ouro numa exposição abstracionista.
A janela
Gracinda só gostava de dormir com a janela fechada. Seu marido, João, só gostava de dormir com a janela aberta. Moravam no térreo, o que vem provar a teoria de que os últimos serão os primeiros, pois no mundo de hoje começa-se a morar de cima para baixo — por causa das cascas de banana que costumam jogar lá do alto. Mas isso não vem ao caso, o que importa é que quando apagavam as luzes para deitar, Gracinda e João mantinham sempre o mesmo diálogo:— Estou com frio, João.
— Estou com calor, Gracinda.
Ninguém dormia. Um esperava o outro cochilar, levantava de mansinho e ia até a janela pra colocá-la a seu gosto. O outro levantava depois e fazia o contrário. Depois das quatro é que dormiam de cansaço, às vezes com a janela aberta, às vezes fechada. Só de manhã cedo é que conferiam pra ver quem ganhou a parada. Nesta noite, a cena se repetiu, como num vídeo tape. Gracinda falou sem sair debaixo do lençol, com a voz sonolenta:
— Fecha a janela, João.
Um vulto saiu por detrás das cortinas:
— João, não, Pedro.
No dia seguinte, deram por falta das jóias.
Cartas na mesa
Quando o ônibus parou, Dorotéia viu um anúncio de cartomante. Saltou depressa, decidiu arriscar a sorte. No velho casarão, com móveis antigos, uma senhora idosa espalhou as cartas em sua frente:— Vejo um louro em sua vida.
Dorotéia se arrepiou, dentro dos seus quarenta e seis anos,
— Um louro alto e forte? E a cartomante, sinistra:
— Um louro baixo e fraco. Um papagaio.
O quarto
Quando Gertrudes ligou pra saber do quarto de frente para o mar, não esqueceu da exigência do locador: "para pessoa de fino trato".— Por obséquio, cavalheiro, foi daí que colocaram um anúncio muito bem redigido, procurando uma pessoa para co-habitar com a sua distinta família?
— Em primeiro lugar, minha senhora, não tenho família, em segundo, não botei nenhum anúncio no jornal, em terceiro, isto aqui é um supermercado e tenho muito que fazer e vê se não amola.
Desligaram. Gertrudes tentou de novo, veio a mesma voz e a mesma resposta. Tentou diversas vezes, o sujeito já estava engrossando. Olhou o anúncio com cuidado, conferiu o número, a mesma voz sem educação. Gertrudes perdeu a paciência, acabou perdendo também o "fino trato", discou pela última vez:
— Olha aqui, seu cafajeste. Sei que o senhor não tem família, sei que o senhor não quer alugar um quarto, sei que aí é um supermercado. Mas presta atenção, seu imbecil, de outra vez que botar um anúncio no jornal vê se põe o telefone direito, ouviu?
E desligou, aliviada.
Acidente
Leocádia era dessas que tinham verdadeira alucinação por lingerie. Pra ela, o mais importante na linha da elegância era a roupa de baixo. Todos os dias, chegava em casa, abria os embrulhos na frente do marido, exibia calcinhas com bordadinhos e rendinhas de todas as cores e de todas as qualidades de tecidos. O marido não entendia:— De que adianta tudo isso, se ninguém vê? Ela sorria, orgulhosa:
— É o que você pensa. Pode dar um ventinho na rua, sabe lá?
Um dia ele estava no escritório, quando o chamaram ao telefone. Era do Hospital dos Acidentados, pra lhe comunicar que a sua mulher havia sofrido um desastre. Correu pra lá e assim que fez a descrição da mulher, um enfermeiro disse pro outro:
— Ei, você aí. Leve este senhor naquele quarto. Está procurando aquela senhora sem calça.
Teve um troço, foi medicado ali mesmo. Duas semanas depois de Leocádia ter alta, ele continuou no hospital, em convalescença.
Amnésia
Zora chegou em casa tarde da noite, encontrou a porta encostada, foi diretamente para o quarto. Mudou de roupa no escuro, pra não acordar o marido, deitou ao seu lado. Quando percebeu que ele estava acordado, foi falando:— Você me desculpe, Henrique, mas é que estou com amnésia profunda. Não me lembro de nada, perco a memória temporariamente e quando a recupero, não tenho a menor idéia do que se passou. Hoje peguei um ônibus pra vir pra casa, mas devo ter ido parar muito longe, não sei nem como explicar. Se você me perguntar como foi, não sei dizer.
A luz se acendeu e Zora pôde ver um homem nu ao seu lado exclamar:
— E agora, já recuperou a memória? Zora ficou perplexa, quase muda de emoção:
— Claro que já. E ele:
— Então pode ver facilmente que não me chamo Henrique, não sou seu marido e a senhora provavelmente deve ter entrado no apartamento errado.
Zora desmaiou. Dessa, nunca mais ela ia esquecer.